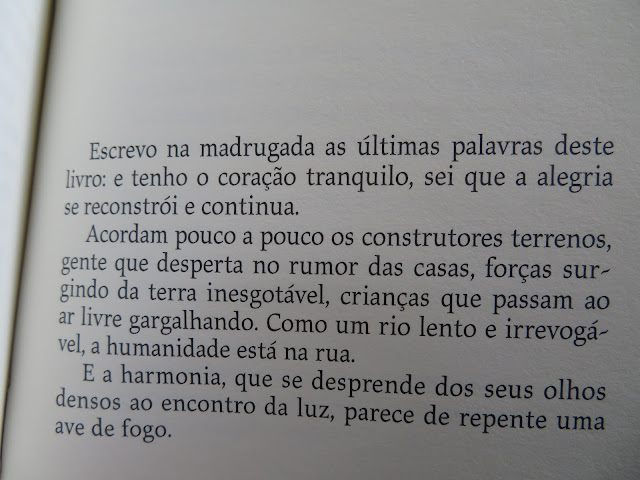domingo, 31 de maio de 2020
domingo, 24 de maio de 2020
S de Santa Cruz (III)
PEVIDE
Estava sentada à soleira das vossas portas com o coração prevenido mas manso. Vendia sentada à borda dos vossos bancos. O dentro dos dedos estava cheio de sal fino, uma sequeira. Lambia-os de relance, eu não queria ofender, sentada à porta dos vossos bancos. Sabiam ao torrado das sementes, a forno. Enrolava os pequenos dinheiros por tamanhos, como era de vosso uso. Estava sentada às vossas sombras sem nada de necessário para trocar. E via:
O desnome das caras passeantes, o desavindo andar, as portas de redondo vidro, cromos, as pernas a galgar ao alto do meu ver, riquezas, bons cheiros, girações, o apertado coração de pressas e os que vagueavam até mim, de graça: o sal atrai e aquele estar tão queda, o funil de jornal, minhas sementes.
Tinha eu então o coração como um trapo: nada me chegava. Porque nada me chegava talvez porque eu quisesse o pouco. O bom de algum bem quieto e poder estar ao sol. Via as ervas crescerem e revirem, nas montras, ao lado da bulha das buzinas. Que manso pasmo, as lindas folhas onde, à beira, nada parava. Fazia frio e seco, molhado outras, os anos, tudo a passar. Os que diziam “Vem” tinham outro ofício a dar-me – mulherar aos dias. Eu não tinha ofício a receber. Diziam “Pois quê?” e só eu podia como não, isso não. Acho que passaram os tempos todos e eu não me fazia mesmo velha. Não me fazia nada, de nada feita. A pouco e pouco, ainda perguntava, fui não estando à espera. Porque estando à espera, não fazia nada que não fosse da espera e ela gasta-se. Há um podre na coisa quieta sem usos que vem do dentro para o fora. Ia saindo isso e formando uma pequena nuvem de enxofre no meu regaço, salobrava. Não me parecia bem. Foi tudo passando mais de largo. Como eu era frouxa assim empodrecendo do que não ficava, não chegava, sentada à soleira das vossas pedra-mármore, balcoarias, janelos de papel-moeda, deposita. De só querer o pouco, o demenos. O só bom. O não buscar.
Foi então que vieram levar-me porque eu não tinha roupas de direito, nomes, licença de cobrar, fazer levantamentos, vendilhona era daquele tempo.
Mas posso fazer renda, digam. Voltar e fazer renda à soleira das vossas trocas? Malha de malha de malha até que nem já veja e então volte devida a este fora parte onde me têm? Eu só queria estar perto do vosso buliçar de ofícios, vender o verem da minha mansidão. Que medo faz paciência pobre, semente gôra seca, outra sede. Medo de malmorrer, não ter aonde. Mas aqui.
Maria Velho da Costa, Desescritas,
Porto: Afrontamento, 1973
sábado, 23 de maio de 2020
A de Aniversário (XV)
FIDELIDADE
Diz-me devagar coisa nenhuma, assim
como só a presença com que me perdoas
esta fidelidade ao meu destino.
Quanto assim não digas é por mim
que o dizes. E os destinos vivem-se
como outra vida. Ou como solidão.
E quem lá entra? E quem lá pode estar
mais que o momento de estar só consigo?
Diz-me assim devagar coisa nenhuma:
o que à morte se diria, se ela ouvisse,
ou se diria aos mortos, se voltassem.
- JORGE DE SENA
[ID, Faro | 016]
Libellés :
"A poesia é o menos.",
(po)ética,
S.T.T.L.
segunda-feira, 18 de maio de 2020
C de "celui qui regarde une fenêtre fermée" (II)
JANELA BAIXA
Lembra-me a janela do último
filme de Béla Tarr, mas
agora somos muitos – e a realidade
(desculpem o termo) faz-se de cores
fortes, que o calor sublinha ou desfoca,
à revelia de quaisquer intenções estéticas.
Apaixonei-me logo por este rectângulo
onde fulgura um horizonte dourado,
cruamente medido pela rotina de rebanhos
ovinos, caprinos ou humanos – semelhantes
no destino, mas desiguais no esplendor.
Ao lado, entre a ruína de dois moinhos,
pessoas vivem ou morrem
dos seus ordeiros rebanhos, da música
que emoldura tardes felizmente iguais,
debaixo de um sol inclemente.
Esta janela, afinal, não precisa de comparações.
Durará enquanto houver silêncio.
Manuel de Freitas, Ubi Sunt,
Lisboa, Averno, 2014
[Beja, Agosto 013]
Libellés :
"I'm building a still to slow down the time"
domingo, 17 de maio de 2020
quinta-feira, 14 de maio de 2020
quarta-feira, 13 de maio de 2020
segunda-feira, 11 de maio de 2020
domingo, 10 de maio de 2020
Q de Quarentena (XI)
É na axila que um pássaro se aninha
e toma carne e febre,
cantando o trabalho paciente
do sonho e da melancolia.
Pássaro num outro espaço,
para onde nos vão desejos e poemas...
Eu te saúdo, pássaro de branca neve e papoila viva,
ao pé do bebedouro e do espinheiro.
Pássaro: casa pequena de ossos
espalhados no alvoroço de ventos e marés...
Jacques Izoard, Jardins Mínimos e outros poemas,
tradução colectiva (Mateus, Maio de 1993) revista e apresentada por Fernando Pinto do Amaral,
Lisboa, Quetzal, 1994
Philip Evergood, "Lily and the sparrows", 1939
sábado, 9 de maio de 2020
Q de Quarentena (X)
INTERMITÊNCIAS
O autocarro afasta-se,
e a praça é uma aranha de seis patas.
Tal como esta paisagem,
a minha ideia de mim próprio foi mudando:
não posso estar completamente satisfeito.
Sei que parece um lugar-comum,
mas os lugares-comuns
- como muros
de ambos os lados da estrada -
dão-nos segurança,
delimitam-nos.
Parar é prosseguir a caminhada.
Arbusto
ou papoila,
também na margem existe vida.
Josep M. Rodríguez, A Caixa Negra,
trad. Manuel de Freitas,
Lisboa: Averno, 2009
sexta-feira, 8 de maio de 2020
Q de Quarentena (VIII)
De quando em quando, alguém escreve diante de uma janela que dá para outra janela. Vive depois da deflagração e da rasura, e às vezes, ao tocar no rosto, percebe que as cinzas e o vento o escavaram até o deixarem desabitado. Escreve como quem apanha as palavras do chão e lhes tira o pó e o cotão, ao erguê-las na sua palma. Endireita-lhes os cantos dobrados e, ao observá-las com atenção, receia que já não lhe sirvam para nada. Mas não tem outras, porque vive num quarto de hotel arrasado e silencioso, e neste livro começou a caminhar no sentido contrário ao horizonte; a contar a vida de novo, embora desta vez não haja ninguém em frente para anuir com exclamações moídas. Contar a vida de um modo vacilante, precário, coxo e repondo as palavras espalhadas pelos escombros sem luz nem certezas. É nisto que consiste escrever: é esse café que vamos tomar depois de estarmos sem falar e que alguém propõe com pouca convicção, “fala-me de ti, conta-me a tua vida” e o outro, ao começar, só encontra um olhar no espelho que está atrás do balcão.
José Ángel Cilleruelo
in Cão Celeste n.º3,
trad. Inês Dias, Lisboa, Maio de 2013
Libellés :
"Porque agora vemos como por espelho",
Cão Celeste
quinta-feira, 7 de maio de 2020
quarta-feira, 6 de maio de 2020
segunda-feira, 4 de maio de 2020
domingo, 3 de maio de 2020
ALEGRIA MORTÍFERA
Ó morte, vem a meus braços,
já que não posso morrer!
AFONSO DUARTE
A morte rondava, rotatita, ritual e ríspida:
comia os adjectivos todos, não perdoava a eternidade dos momentos, levara a mãe e alguns dos seus melhores amigos.
A morte respirava perto, descalça, a dansar sobre cacos de vidros.
§
A morte punha a nu a sua castidade toda.
§
Dormiam como dois irmãos, unidos pelo mesmo sangue, que circulava através da ternura.
§
Esperavam um pelo outro, enquanto dormiam.
§
Amava sem medida, sem deixar de ser perverso: andava pelo verso a verificar o som do vinho a cair no copo,
a vibração do eco colorido e do sabor,
cansado do cansaço, o coração cheio de musgo,
emparedado entre a paixão e o remorso.
24.II.96
António Barahona, Maçãs de Espelho,
Lisboa: Língua Morta, 2012
Subscrever:
Comentários (Atom)